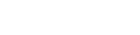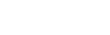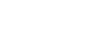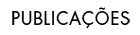|
 |

Acadêmico: Eugênio Bucci
A Academia se alimenta de dissidências que, em lugar de se repelirem, vão se refletindo em mãos estendidas.
São Paulo, 03 de outubro de 2024
Antes de tudo, quero agradecer a cada uma e cada um de vocês que vieram aqui hoje. Vocês prestigiam a Academia Paulista de Letras e me dão amparo e motivação. Muito obrigado.
Saúdo meus confrades e minhas confreiras que comparecem à nossa sessão. Muito obrigado.
Cumprimento a nossa mesa, nas pessoas de José Renato Nalini, Gabriel Chalita, Maria Adelaide Amaral, Tercio Sampaio Ferraz Júnior e Rubens Barbosa.
E, ao meu professor Celso Lafer, como posso agradecer por sua fala de recepção tão informada e tão cheia de amizade? Não tenho como retribuir. Só posso externar uma vez mais a minha admiração por sua obra e suas ações, que não poderia ser maior – e, no entanto, não cessa de se ampliar. Lembro o peso de sua liderança há 32 anos, quando, ao ocupar o cargo chanceler pela primeira vez, organizou e comandou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, que reuniu 108 chefes de Estado. Aquele encontro deu todos os sinais da crise climática que se aproximava. Pena que demorou tanto a serem ouvidos. Lembro ainda o seu período de estudante de Ciência Política em Cornell, quando foi aluno de Hannah Arendt. Lembro tudo que aprendi sobre essa filósofa graças às suas luzes, aos seus livros e às nossas conversas. Muito obrigado. Suas palavras imprimiram à minha trajetória um sentido acima do que jamais imaginei.
...
Os homens e as mulheres que me recepcionam hoje nesta casa são meus semelhantes. Sim, temos diferenças no modo de conceber a política, somos discrepantes ao agir sobre a realidade, não convergimos em nossas visões sobre a economia, as religiões e o estatuto da arte, mas guardamos uma semelhança maior que nos une: o cultivo das prendas e das sendas da linguagem e o apreço pelo diálogo. A Academia representa um convite para um plano elevado de convivência, com pensamento e sensibilidade, porque mora no rumor dos signos.
Certa vez, Miguel Reale, o jurista, filósofo e professor que integrou esta casa, escreveu:
“O que distingue uma associação acadêmica é a comum participação aos valores tanto da sensibilidade quanto do intelecto, entre eles se situando os da língua, a qual constitui o solo natural da cultura, com sua trama sempre renovada de signos e significados, mediante os quais a espécie humana converte em realidade objetiva as criações de seu espírito.”1
De minha parte, não vislumbro a existência ontológica de um espírito que anteceda a linguagem. Tampouco o vejo lançando mão de um uso instrumental dos signos. Diversamente, digo que o espírito se povoa de signos, sua substância são os signos. De nenhum modo, porém, a minha intuição meio gauche, medianamente materialista, nubla a luminosidade da síntese de Miguel Reale. Se uma academia tem viço, há de ter ouvidos para “a trama
sempre renovada de signos e significados”. Gosto dessa expressão. Gosto ainda mais quando me dou conta de que ela vem de um pensador que, sem ter se especializado na linguística, soube pressentir certos meandros da semiótica.
A Academia se instaura na observância delicada das leis internas que regem a “trama de signos”, trama que nos precede e nos sucederá. A Academia se alimenta de dissidências que, em lugar de se repelirem, vão se refletindo em mãos estendidas. Nela, o dissenso gera conhecimento, não animosidade. Uma academia é uma forma de utopia em ensaio de paz, inquietude e serenidade.
Penso nisso porque só isso pode explicar a razão pela qual fui escolhido para estar aqui. Eu fui eleito porque sou diferente, não um decalque dos meus confrades das minhas confreiras. Nesta casa de mistérios, eu me sinto misteriosamente em casa. Jorge Mautner canta que “belezas são coisas acesas por dentro”.2 Ele canta também que “tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento”.3 Nesta casa de penumbras claras e lampejos amenos, uma beleza quieta se acende dentro de mim e não se apaga.
Eu me reconforto ao perceber que meus semelhantes e minhas semelhantes são dessemelhantes entre si. Semelhantes e dessemelhantes ao mesmo tempo. Desde a minha eleição, há coisa de dois meses, eles e elas vêm me dando mensagens de boas-vindas, salpicadas de graça e amizade. Eu agradeço, comovido.
Mas há mais gente que vem me receber aqui. Há pessoas que já se foram e que, mesmo assim, não se omitem em me saudar. Por meio de suas obras, puxam comigo uma prosa longa, sem mistificações, sem misticismos e sem alardes. Nesse ponto, sigo a tradição acadêmica e faço meu pronunciamento nesta noite para falar principalmente dessas, que já não estão aqui, mas estão. O meu tema são elas. A elas eu rendo minhas reverências.
A Academia Paulista de Letras foi fundada em 27 de novembro de 1909. A cadeira 12 entronizou como seu patrono Paulo Egydio de Oliveira Carvalho. Ele nasceu na cidade paulista de Bananal, em 1843. Estudou no Largo de São Francisco e se dedicou à imprensa: dirigiu o Diário de São Paulo e colaborou com o Correio Paulistano. Fico impressionado. Cem anos depois dele, eu trilhei um caminho parecido: vim do interior, estudei direito na São Francisco e segui carreira jornalística. A diferença que existe entre nós é que meu patrono foi maior. Além de um profissional das redações, consagrou-se como advogado, promotor de justiça e intelectual público. Levantou sua voz em defesa da abolição da escravatura e teve olhos para outras desigualdades. Eleito senador, em 1894, engajou-se na criação das caixas populares com o objetivo de facilitar o crédito para as camadas mais pobres, que ele chamava de “massas espoliadas”, ou de “proletariado”. Paulo Egydio de Oliveira Carvalho morreu em São Paulo, em 1906. Sob sua inspiração, cinco pessoas já ocuparam a Cadeira 12 da Academia Paulista de Letras:
Alberto de Melo Seabra, René Thiollier, Maria de Lourdes Teixeira, Benedicto Ferri de Barros e Paulo Nathanael Pereira de Souza.
O primeiro da lista, o médico Alberto de Melo Seabra, também teve atuação como jornalista – escreveu especialmente n’O Estado de S. Paulo e no Correio Paulistano. Também ele nasceu no interior paulista: em Tatuí, no ano de 1872. Começou os estudos de Medicina no Rio de Janeiro e se formou em Salvador, aos 22 anos, já vocacionado para a psiquiatria. Estabelecido em São Paulo, clinicou no Hospital do Juqueri, por indicação do Dr. Franco da Rocha, e na Santa Casa de Misericórdia. Estudou a obra do neurologista francês Jean-Martin Charcot, um dos professores de Sigmund Freud, de quem também foi leitor. Num de seus livros, A alma e o subconsciente, Alberto Seabra sustenta que o método da hipnose, desenvolvido por Charcot, seria um caminho para a cura do alcoolismo e para a dependência em morfina.4 Sua escrita, límpida e ágil, levita sobre as páginas envelhecidas, já amarronzadas pelo tempo. Que leitura agradável.5
O meu predecessor também se encantou com as teses de outro francês do século XIX: Allan Kardec, o sistematizador do espiritismo atual, e postulou a existência de um “espiritismo científico”. No campo da medicina, praticou e difundiu largamente a homeopatia. Suas iniciativas em outras frentes tiveram êxito absoluto. Ele se filiou às articulações que levaram à fundação do Instituto Pasteur e à criação da Universidade de São Paulo, que prosperaram. Morreu em 1934.
O segundo a ocupar a cadeira 12, o escritor paulistano René Thiollier, nascido em 1882, foi um agitador cultural refinado. Egresso do Largo de São Francisco, ajudou no nascimento do Teatro Brasileiro de Comédia, serviu como conselheiro no Liceu de Artes e Ofícios e se incorporou ao grupo que realizou a Semana da Arte Moderna. Foi ele quem alugou o Teatro Municipal de São Paulo para os modernistas e, pelos registros que consultei, pagou a conta do próprio bolso. Morador da Avenida Paulista, gostava de se vestir com esmero. O porte elegante, com ares de fidalguia, se completava no bigode bem aparado e nos cabelos repartidos no alto, meridianamente no meio. Entre suas obras, o livro de contos A louca do Juquery – lá mesmo onde clinicou o Dr. Alberto Seabra –, de 1930, talvez seja o mais aclamado. Aqui na Academia, lançou a revista APL e exerceu várias funções de direção, fazendo jus ao título de secretário perpétuo e presidente de honra, que ganhou dos seus pares.
René Thiollier morreu em 1968. No ano seguinte, a romancista e cronista Maria de Lourdes Teixeira tomou posse da cadeira 12. Foi a primeira mulher a ter lugar nesta instituição. Ela nasceu em São Pedro, no estado de São Paulo, em 1907, e morreu em 1989, aos 82 anos. Ganhou duas vezes o Prêmio Jabuti, em 1961 e 1970. Seu romance O Pátio das Donzelas mereceu uma adaptação como telenovela para a TV Cultura em 1982, com roteiro de Rubens Ewald Filho. Na biblioteca da nossa Academia, no terceiro andar, podemos vê-la numa tela de Antônio Medgyesy, pintada em 1953. O frescor de seu semblante parece respirar.
Temos aqui uma curiosidade histórica digna de nota. O filho de Maria de Lourdes Teixeira, Rubens Teixeira Scavone (1925-2007), advogado e fotógrafo modernista, além de romancista, vencedor do Prêmio Jabuti em 1973, também foi nosso acadêmico. A linhagem não parou aí: o neto de Maria de Lourdes, e filho de Rubens Scavone, o fotógrafo Marcio Scavone é imortal desde 2017, titular da cadeira número 9.
Depois de Maria de Lourdes, veio o sociólogo e economista Benedicto Ferri de Barros. Nascido em Formoso, no município de São José do Barreiro, em 1920, ele se formou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, foi membro da Academia Internacional de Direito e Economia6 e deu aulas na USP e na Fundação Getúlio Vargas, além de ter colaborado com os diários paulistanos O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde. Benedicto Ferri de Barros fundou a revista Essência, da qual participou meu confrade Eros Grau, e escreveu, entre outros livros, O mercado de capitais dos Estados Unidos e Japão – a harmonia dos contrários. Morreu em 2008, aos 88 anos. Segundo Paulo Nathanael Pereira de Souza, que o sucedeu em 2009, o economista se incomodava “com a incapacidade de os governos brasileiros promoverem as reformas de base, como a superação dos problemas criados pela falta de educação e saúde”. Seus incômodos seguem na ordem do dia.
Agora, chego a Paulo Nathanael Pereira de Souza, que me toca mais de perto. Em uma sessão recente da nossa Academia, que aconteceu aqui, no segundo andar, estivemos juntos. Foi no dia 16 de maio. Eu compareci, a convite do presidente Antonio Penteado Mendonça, para expor o argumento de um pequeno livro meu. Não posso me esquecer de Paulo Nathanael, com seus 95 anos, circunspecto, olhando para mim do outro lado da mesa. Senti a responsabilidade de ter como ouvinte um dos maiores educadores do Brasil. Nove dias depois, ele faleceu.
Hoje, experimento uma sensação idêntica. A contingência de ficar no lugar dele pesa ainda mais que a casualidade de falar para ele. Substituí-lo está acima das minhas capacidades. Só o que me tranquiliza é saber que não vou substituí-lo, mas conviver com ele. Ou, melhor, vou dialogar com ele, como estou fazendo agora.
Paulo Nathanael é mais um que nasceu no interior paulista: em José Paulino (hoje Paulínia), no dia 25 de março de 1929. Na infância, morou em Campinas, Araraquara e São Carlos, nas quais cursou as primeiras letras. Em São Carlos concluiu o curso Clássico e se formou também como professor primário. Na mesma cidade, foi vereador. Em 1961, mudou-se para São Paulo e cresceu. Chegou ao posto de Secretário de Educação e Cultura desta metrópole e a Secretário de Educação do Estado.
Ele deu aulas em todos os níveis de ensino, desde o velho curso primário até a pós-graduação. Foi presidente do Conselho Federal de Educação. Sua notoriedade angariou os reconhecimentos mais altos. A França o condecorou com a Ordem Nacional do Mérito do Governo, sob a presidência de Valéry Giscard d’Estaing, e com a Légion d’Honneur, no período do presidente socialista François Mitterrand. A Academia Brasileira de Letras lhe outorgou duas distinções: a Medalha João Ribeiro e a Medalha Livreiro Francisco Alves, esta atribuída a escritores de destaque a cada cinco anos. Ele também recebeu a Ordem Nacional do Mérito Educacional, no grau de grande comendador.
Paulo Nathanael pertenceu a outras academias, como a Academia Brasileira de Filosofia, a Academia Cristã de Letras, a Academia Paulista de Educação e a Academia Brasileira de Educação. Presidiu o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), tanto em São Paulo quanto nacionalmente, e foi agraciado pelo mesmo CIEE, em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, com o prêmio Guerreiro da Educação Ruy Mesquita.
Publicou cerca de trinta obras. Desafios Educacionais Brasileiros, Pré-escola, uma nova fronteira educacional, Educação, escola e trabalho e Educação na Constituição e Educação: uma visão crítica são algumas delas. Em 2011, saiu pela Integrare Editora um volume que retoma e condensa seu pensamento: Caminhos e descaminhos da educação brasileira. Recomendo a leitura.
Uma frase do autor, posta em epígrafe, surpreende pela atualidade:
“Se à escolarização universal dos ensinos fundamental e médio não se justapuser a permanência universal dos alunos até o final dos cursos, a escola não estará sendo nem democrática, nem justa, nem eficiente.”7
Observação mais que oportuna. As políticas de permanência nunca foram tão necessárias. A USP vem trabalhando muito para tornar motivadora e prazerosa a rotina de alunas e alunos que vêm de famílias mais vulneráveis. O empenho vale cada centavo. A universidade melhora muito, e rapidamente, graças às políticas de inclusão.
Eu sou jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, não tenho formação de educador. Mesmo assim, por gosto e por dever de ofício, venho aprendendo uma coisa ou outra sobre essa matéria inesgotável. Posso atestar que, quanto mais diversas e múltiplas, mais eficientes são as universidades. As instituições de ensino ganham vigor à medida que ousam extrair saber do que é díspar. Nesse ponto, aliás, o ideal da escola coincide com o ideal de uma academia: aprender na diferença. Academias de letras e escolas se parecem também nisso.
Cito novamente Paulo Nathanael:
“A verdadeira educação insere realmente as novas gerações no universo do conhecimento e torna apto até mesmo o mais humilde dos habitantes a participar conscientemente das práticas cidadãs e do processo econômico da nação.”8
Quem haverá de discordar? Educar só pode ser sinônimo de formar cidadania. Pena que o Brasil não tenha assimilado essa verdade que meu antecessor tornou tão cristalina. O problema é tão exasperante que, em algumas passagens, nosso educador adota um tom enérgico:
“O Brasil sempre soube educar suas elites, sem que tenha aprendido a educar o povo.”9
Minha tendência é aplaudir. Ao mesmo tempo, vejo-me interpelado por um vislumbre talvez mais ácido. Levanto uma interrogação que radicaliza o pensamento do Paulo: será que as elites brasileiras sabem se educar de fato? Hoje, tendo a dizer que não.
Mesmo que não tenham sido privadas dos melhores professores que o dinheiro pode contratar, mesmo que não lhes falte o pleno acesso à informação, as elites brasileiras, com frequência, agem de modo deseducado. E aí? Seriam elas bem formadas? Ou serão apenas deformadas? Um país que não sabe educar seu povo, terá sabido educar as elites? Sei que Paulo Nathanael não recusaria essas perguntas, ele que tanto valorizou o espírito crítico. Volto ao texto dele:
“Não basta, como antigamente, que apenas se aprenda mecanicamente a ler, contar e escrever. É preciso inserir a aprendizagem no contexto social, político e cultural de cada aluno, com vistas a aprimorar seu senso crítico e a amadurecer sua livre capacidade de escolha e de tomada de decisão em todos os momentos da vivência de sua cidadania.” 10
Nenhum educador sincero discordaria. E nosso autor fala com dureza:
“A fábrica de analfabetos no Brasil continua funcionando a pleno vapor.”11
Ele nos mostra, em seu raciocínio brilhante, que o analfabetismo não é consequência da inércia nem cai do céu – é meticulosamente confeccionado pelas engrenagens da indiferença. O analfabetismo funcional, este mais ainda, não brota da terra: é fabricado. E fabricado por quem? Embora Paulo Nathanael não diga isso expressamente, eu, ao interpretá-lo, posso afirmar, sem medo de distorcer sua arquitetura analítica: o analfabetismo funcional é fabricado pelas elites.
A sensação de que o atraso é construído, não é natural, também me aproxima de quem me precedeu aqui na cadeira 12. Eu mesmo tenho anotado uma tese análoga ao “analfabetismo fabricado”. Tenho percebido a ocorrência de outra mazela produzida industrialmente: a ignorância artificial. Nos nossos dias, a ignorância não é mais um vazio, uma ausência de saber – é uma compactação industrial de signos sem vida, signos esterilizados, que Bakhtin chamaria de “signos ideológicos defuntos”.12
São palavras mortas, apagadas pelo sofrimento da linguagem, que, exauridas, perdem sua potência de significar o que quer que seja. A ignorância artificial se vale de signos visuais mortos, inférteis, mas ela tem massa, tem peso, ocupa espaço e até se enfeita e se ilumina, a exemplo das fachadas dos cassinos de Las Vegas. Ela faísca na tela dos telefones celulares. Ela aprisiona a humanidade dentro de uma nova caverna de Platão, cujas paredes são revestidas de telas eletrônicas.
Também nisso, portanto, sou seguidor de Paulo Nathanael. Ele com o analfabetismo fabricado, eu com a ignorância artificial. Notei, ao lê-lo, que ele sempre acalentou a meta de levar o Brasil ao patamar dos países de Primeiro Mundo, tomando a educação por alavanca. Ele afirmava que
“no mundo contemporâneo não há mais lugar para os despreparados intelectualmente”.13
É claro que estou de acordo, uma vez mais, embora tenha me fechado aos apelos de “ascensão ao primeiro mundo”. Fico ao lado de Paulo Nathanael, mas, à medida que compreendo o que ele quer dizer, sinto que uma perversidade veio se cristalizando e revirando algumas tendências com as quais ele trabalhou intelectualmente. Os despreparados não deveriam ter lugar no “mundo contemporâneo”, pois isso não teria nenhuma lógica, mas o inverso se impôs de modo bestial. O despreparo intelectual não apenas achou seu lugar no “mundo contemporâneo” como abocanhou nacos de poder. Em muitas partes do planeta, o anti-intelectualismo dá as cartas. E nós vimos de perto. O negacionismo no poder fez pouco da pandemia de Covid-19. Hoje, o discurso anticiência, despreza o aquecimento global e olha para a escalada dos termômetros como se tudo não passasse de uma... “narrativa”. Na avalanche das inversões perversas, a selvageria usurpa o lugar da lei e o fanatismo rouba o lugar da política.
Nessa curva da História, sigo o filósofo Adauto Novaes. Nós estamos passando por uma mutação: não uma crise, não uma inundação de inovações disruptivas, mas uma monstruosa mutação. À primeira vista, as novidades se revelam como proezas da técnica que teriam vindo para facilitar as operações do cotidiano. Os computadores falam. Aplicativos conversam com seres humanos, e não só para tocar uma canção na caixa de som. Há dispositivos que namoram o cliente. Outros prestam serviço de terapia e de atendimento psicológico. A máquina vira sujeito de linguagem.
Paremos um pouco para pensar no significado desse advento. Nós, que sempre nos consideramos acima das outras espécies porque falávamos, agora vemos artifícios falantes que, sem ter subjetividade, tomam decisões cada vez mais complexas, mais eficazes e mais abrangentes. Ora, isso não é mero divertimento. É uma grave mutação da cultura e da humanidade. As proezas da técnica não são assim tão inocentes. Elas não são neutras.
A educação contribuiu de alguma forma para os inventos que fizeram da máquina um sujeito de linguagem? A resposta é “sim” e “não”. “Sim”, porque, para tantas façanhas tecnológicas, as escolas forneceram profissionais técnicos decisivos. Mas ao mesmo tempo a resposta é “não”, uma vez que as escolas, nesse caso, foram mais centros de adestramento da mão de obra dita qualificada – e foram menos núcleos de pensamento crítico.
A crítica está em baixa. O desprestígio da crítica e da liberdade científica são sintomas sérios de um tempo em que o analfabetismo funcional fabricado prevalece sobre o gosto pela leitura. E às vezes esse desprestígio contamina até a universidade. Vale reler uma interrogação aguda de Paulo Nathanael:
“Como ensinar a liberdade de pensar, criar, pesquisar, agir e compreender, que está na raiz da missão da universidade, sem que ela mesma exerça, em sua plenitude, a autonomia que a lei lhe assegura?” 14
A universidade é o melhor lugar do mundo. Para gente como eu, como meu antecessor, não existe ambiente melhor. Mas, enquanto a escola se dobrar ao poder, ao capital e à técnica, por mais solícito que sejam o governante, por mais simpático que seja o bilionário, por mais sensuais que sejam as máquinas, não saberemos jamais educar o nosso povo e não teremos cidadãos dotados de autonomia conceitual, para me valer da expressão de Claudio Abramo – não teremos cidadãos cientes de que são eles a única fonte legítima do poder. Só alcançaremos esse ideal quando a universidade for independente de verdade, livre, autônoma, inclusiva, forte e crítica. A saída está na crítica e no exercício da autonomia.
Por tudo isso, dou vivas ao meu antecessor. Não porque ele tenha resolvido os problemas, mas porque ele não desistiu de diagnosticá-los. Sua dimensão intelectual segue indelével porque ele mesmo foi crítico. Sua dimensão crítica segue imortal.
Agora, posso caminhar para a minha conclusão, pois já louvei os meus antecessores. Apenas peço licença para, antes de terminar, acrescentar uma nota de pé de página a respeito de algumas circunstâncias da minha formação. Farei isso para que vocês compreendam um pouco melhor as raízes do que eu disse aqui nesta noite.
Em março de 1978, cruzei pela primeira vez o portão da Cidade Universitária, a bordo de um táxi, para virar aluno da ECA. Foi amor à primeira vista. Dois anos mais tarde, ingressei na Faculdade de Direito da USP e passei a cursar as duas graduações ao mesmo tempo. No mesmo ano, fiz parte da chapa que foi eleita para o Diretório Central dos Estudantes, o DCE da USP. As agremiações estudantis tinham sido proscritas pela ditadura militar, e nós, determinados a pôr fim a essa clandestinidade compulsória, decidimos registrar oficialmente o DCE em cartório, dando a ele uma personalidade jurídica. Eu cuidei do trâmite pessoalmente. Legalizamos nossa entidade com o nome de DCE Livre Alexandre Vannuchi Leme.
Também interiorano, de Sorocaba, Alexandre estudava Geologia na nossa universidade quando morreu sob tortura, em 1973. Tinha 22 anos. A consciência de que vivíamos sob um regime que assassinava garotos da minha idade por motivos políticos fez de mim o que sou hoje. O escritor Camilo Vannuchi, primo em segundo grau de Alexandre, lançou este ano uma biografia do estudante assassinado. O título é: “Eu só disse meu nome”. Essa foi a frase que Alexandre gritou para os companheiros de prisão quando saiu da câmara de tortura. Assim, eles poderiam saber que nenhuma informação fora revelada e eles não teriam que se preocupar com isso quando fossem levados a novas sessões de tortura. Alexandre Vannuchi Leme morreu pouco depois de deixar seu recado para os outros prisioneiros. 15
Naquele tempo do DCE, eu desenvolvi uma repulsa física à ditadura, à tortura e à censura. A liberdade virou uma causa da minha vida, irmã gêmea de outra causa: o combate contra a desigualdade. A liberdade eu só posso entendê-la como a liberdade de dissentir, não de anuir. A liberdade só é liberdade quando se expande sem se contrair nunca, mais ou menos como o universo e sua entropia.
Tive as primeiras lições de liberdade dentro de casa. Pelas mãos de minha mãe, a Dona Mary, aprendi a amar as bibliotecas. Nas boas bibliotecas, os bons livros conversam entre si. Quando é tarde da noite, a gente pode ouvir os cochichos. Os livros não se falam aos gritos, mas aos sussurros. Pelas mãos de minha mãe, eu li Machado de Assis. Dona Mary foi professora de português e me deu aulas no ginásio. Minha mãe-professora me ensinou análise sintática: o sujeito é aquele que pratica a ação. Meu pai, o Dr. Bruno, advogado e, depois, procurador do estado, mandava encadernar para mim os Suplementos de Cultura do Estadão, editados por Nilo Scalzo, que foi membro desta academia. Tenho esses volumes até hoje. Capa verde com letras douradas.
Mas o maior presente que recebi do meu pai e da minha mãe foram meus dois irmãos, Gustavo e Angelo, e minha irmã, Fabiana, que nunca me deixaram na mão, em nenhuma circunstância.
Em frente à nossa casa, em Orlândia, morava um professor de português renomado em toda a região. Seu nome era Cyro Armando Catta Preta. Tinha sobrancelhas espessas e uma voz trovejante que contrastavam com a boca pequena, abreviada, mais ou menos como um hífen. Era poeta. Sei de cor alguns de seus versos. O professor Cyro foi prefeito da nossa cidade por mais de um mandato, sempre pela Arena, o partido da ditadura. Sem jamais me alinhar às suas posições e sem ter sido seu aluno no Instituto de Educação, aprendi com ele uma disciplina vaga e intrincada. Por ter visto de perto sua oscilação entre a lira e os palanques, entendi que os nexos entre arte e política se dão por asperezas e incompatibilidades, nunca há final feliz. Cyro me disse uma vez que valia a pena participar de concursos literários e entrar em academias. Acho que é por ele que estou aqui hoje.
Ainda no capítulo das reminiscências, tenho que pronunciar o nome de Miguel Carlos Vitaliano, médico pneumologista orlandino, meu comparsa de seresta, que morreu há duas semanas, no dia 20 de setembro. Poeta de olhos verdes, menino bonito na juventude, ele me apresentou ao que eu chamo agora de boemia bucólica – isso quando eu ainda estava aprendendo a fazer a barba. Ele deveria estar aqui hoje.
Quem também deveria estar aqui é Dalmo Dallari, a pessoa que mais me ensinou sobre Direitos Humanos. Com ele desenvolvi um laço de proximidade fecundo e definitivo. Cantamos juntos, entre um violão e, ocasionalmente, um imperceptível trago de boa cachaça. Conversamos sobre filologia e outros assuntos improváveis. Partilhamos o passar das décadas. Em 1986, tomei a mão da sua filha, Maria Paula, que está aqui comigo. Juntos, eu e ela cruzamos céus e infernos, como ela mesma diz. Juntos, agora digo eu, geramos felicidade. Nossos filhos, Mario, com sua mulher, Ticiana, e Martha, com seu marido, Guillermo, nos acompanham neste auditório. Aurelia, minha neta, com a autoridade de seus seis meses de vida, decidiu vir de Zurique. Olhando a minha família, penso que Dalmo Dallari não se foi.
No mais, resta o não sabido, e isso é a melhor parte. De nossa espécie, só as letras e os signos sobreviverão. Quando não houver mais ninguém por perto, serão lidos por aparelhos frios. Antes de esse dia chegar, tenhamos a decência de tornar os seres humanos mais iguais e mais diferentes, porque assim a civilização terá chances. Temos de ser iguais onde a sociedade de classe nos diferencia. Temos de ser diferentes onde a incultura de massa nos iguala. 16 Igualdade na diferença, diferença na igualdade. Isso requer de nós um compromisso com ouvir falas de quem pensa por outros parâmetros. Isso nos exige a dignidade de saber que nossos itinerários são feitos de enganos, enganos que só superamos no diálogo e na experiência.
O filósofo brasileiro José Américo Motta Pessanha observou uma vez que Santo Agostinho, com mil e duzentos anos de antecedência, foi um precursor do cogito de René Descartes. Agostinho não disse “penso, logo existo”, mas disse algo melhor: fez um elogio do engano. É o que leio agora:
“Se eu me engano, eu sou, pois aquele que não é não pode ser enganado”. 17
Ainda bem que nos enganamos. O engano é o princípio. O engano dá vida ao saber. Muitas vivas ao engano.
E viva também a dúvida. No início da minha fala nesta noite, eu disse que as academias aprendem na diversidade. Faltou dizer que isso não é fácil. Para aprender na diversidade, precisamos ser capazes de duvidar das nossas próprias convicções. Sem essa capacidade, não passaríamos de pacotes de certezas ressequidas, com o espírito amofinado e o desejo travado.
Duvidar é um verbo imprescindível para o jornalismo. Um repórter ganha a vida fazendo perguntas – e as faz porque não sabe as respostas. A liberdade de imprensa é a liberdade de perguntar tudo para autoridades que preferiam não ter que responder nada. Assim como o patrono da cadeira 12 é o jornalista Paulo Egydio, o santo padroeiro do jornalismo deveria ser São Tomé, o apóstolo que teve a coragem de duvidar das chagas de seu mestre. O nosso mantra, na imprensa, deveria se resumir a um único verso da velha oração de São Francisco de Assis, mas virado de ponta-cabeça. Onde São Francisco ora “onde houver dúvida, que eu leve a fé”, nós deveríamos proclamar o contrário: “onde houver fé, que eu leve a dúvida”. Nada contra a fé, por certo. Nada contra a transcendência almejada, ou mesmo a transcendência involuntária. A questão é que a modernidade nos pede o exercício da dúvida. Na modernidade, duvidar é uma virtude. O bom jornal ajuda seus contemporâneos a desconfiarem dos mercadores de certezas. Parece pouco, mas é tudo que temos.
Acho que nisso reside a razão de eu ter dedicado a vida aos filamentos da cultura, a mesma cultura que tem nesta casa uma expressão maior.
Com leveza de alma, eu assumo o compromisso de tomar conta da cadeira 12. Prometo entregá-la impecável e limpa, mas muito usada, a quem vier depois de mim.
_______________________________________________________
Notas de rodapé:
1REALE, Miguel. Academia Paulista de Letras, 90 anos. Prefácio.
2Canção “Lágrimas Negras”, lançada por Gal Costa, no álbum Cantar, de 1974.
3Idem.
4MELLO SEABRA, Alberto de. A alma e o subconsciente. Monteiro Lobato & Comp. Editores, 1923, p. 39.
5 Por vezes, o autor é maldoso, como quando afirma que o “mofinomaníaco” mata “pae e mãe” se essa for a condição necessária para “obter o seu indispensável veneno”. A alma e o subconsciente, Monteiro Lobato & Comp. Editores, 1923, p. 43.
6 Atuou como consultor ou conselheiro em várias entidades, como o Centro de Estudos Políticos e Sociais, a Associação Comercial de São Paulo, a Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais e a Associação Nacional dos Agentes Autônomos de Investimentos.
7 Paulo Nathanael, Caminhos e descaminhos da educação brasileira, Integrare Editora, 2011. A frase, do próprio autor, aparece em epígrafe, abrindo o volume.
8 Idem, ibidem. P. 18.
9 Idem, ibidem. P. 25.
10 Idem, ibidem. P. 28.
11 Idem, ibidem. P. 30.
12 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 8ª edição, 1997, p. 46.
13 PEREIRA DE SOUZA, Paulo Nathanael. Caminhos e descaminhos da educação brasileira, p. 38
14 Idem, ibidem. P. 36.
15 VANNUCHI, Camilo. Eu só disse meu nome: Alexandre Vannucchi Leme. São Paulo, Editora Discurso Direto Instituto Vladimir Herzog, 2024, 192 págs.
16 Essa ideia me apareceu na juventude e me segue desde então. Eu a registrei no prefácio do meu livro O peixe morre pela boca, editado pela Scritta Editorial, em 1993.
17 PESSANHA, José Américo Motta, “Vida e Obra”, ensaio introdutório para o volume Santo Agostinho na coleção Os Pensadores. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p.15.
EUGÊNIO BUCCI
 voltar
voltar