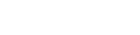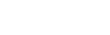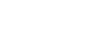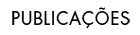|
 |

Acadêmico: José de Souza Martins
Em seu discurso de posse, o Acadêmico José de Souza Martins homenageia Inezita Barroso, eleita que morreu antes de tomar posse da cadeira, e fala sobre a cultura caipira.
Caros Presidente da Academia Paulista de Letras, Professor Gabriel Chalita; secretário da Academia, Antonio Mendonça Penteado; Secretario de Estado Adjunto da Cultura, José Roberto Sadek;
Caros acadêmicas e acadêmicos, Caros amigos, cara família, caros todos.
Querido povinho de casa Heloisa e Veridiana, Marcelo e Felipe, Juliana e Thiago, que de vários modos, ao longo da vida e no amor que nos faz um só, tem sido meu forte e meu norte.
Querido Paulo Bomfim, amigo e irmão, cuja poesia tem coberto de lirismo e beleza os caminhos de minha geração:
A Academia Paulista de Letras, com larga e honrosa generosidade de votos, acolheu meu nome como o de sucessor de Inezita Barroso e de Ruth Guimarães, as mais recentes titulares da Cadeira nº 22, que tem como patrono João Monteiro. Inezita faleceu antes da posse e, paulista das antigas e de certo modo mameluca, antes do tempo, como se referia Frei Bartolomeu de las Casas aos índios da América. Deveria estar tomando posse nesta hora e, portanto, fazendo o elogio literário de sua antecessora, Ruth Guimarães, como é da tradição deste cenáculo. Não tendo ela podido fazê-lo, peço à Academia que a considere empossada junto comigo. Dirijo-me a todos, portanto, com grave senso de apreço e admiração por ambas para fazer meu discurso de posse e, nele, fazer o discurso que, estou certo, Inezita também faria, sobre sua antecessora. Por isso, quase sou tentado a pedir-lhe, senhor Presidente, o dobro de tempo para falar, pois falo por duas pessoas.
Entendo minha eleição para a Academia não só como imensa honra, mas também como chamamento e missão de amor pelo livro, pela leitura e pelo ofício de escritor. Na semana passada compareci, pela primeira vez, ao Clube de Leitura da Academia. Foi uma sessão de animada conversa sobre a Antologia Lírica, de Paulo Bomfim. Como se diz no meu subúrbio, veio gente de tudo quanto é canto: uma caravana de Jundiaí, uma caravana de Santos e até uma caravana aqui da distante São Paulo, sem contar os avulsos, como eu. Aí estão os acadêmicos Anna Maria Martins e Mafra Carbonieri, entusiásticos animadores do Clube, que não me deixam mentir. De portas abertas, a Academia recebe, toda última quinta-feira do mês, quem quiser participar de um belo e informal bate-papo sobre obra previamente escolhida de autor conhecido. Um sarau literário, que nos lembra de um belo costume da São Paulo antiga, que era o das reuniões de conversação culta, uma das primeiras iniciativas de mulheres admiráveis, como a Marquesa de Santos e Dona Veridiana Valéria da Silva Prado, para criar um espaço de convivência inteligente aberto à participação das mulheres, confinadas até então na clausura da casa patriarcal, à espera do casamento precoce, geralmente com um primo, para novo confinamento e novo patriarcado. Segue o Clube de Leitura a recomendação de Castro Alves, que mais de uma vez declamou seus poemas em eventos públicos no que é hoje a Praça João Mendes: “Oh! Bendito o que semeia Livros... livros à mancheia... E manda o povo pensar! O livro caindo nalma é germe — que faz a palma, é chuva — que faz o mar.”
Tempo em que as ruas de São Paulo ainda eram da poesia e dos poetas e assim permaneceriam até as comemorações inesquecíveis do quarto centenário da cidade, em 1954. Em Antônio Triste, em vários momentos é a rua o cenário dos poemas de Paulo Bomfim que, num deles extrai lirismo das transformações decorrentes da deterioração da paisagem: “Batem as estacas/ Um prédio novo, de dez andares/ Terraços tristes/ Pássaros presos/ Rosas suspensas/ Flores da vida/ Rosas de dor.” Fez bem o poeta Carlos Vogt de encerrar sua antologia dos Melhores Poemas de Guilherme de Almeida, um dos meus antecessores na Cadeira que agora ocupo, com um poema sobre a rua de que o poeta arranca a poesia que permanece mesmo nessa cruel metamorfose: “A rua digere os homens: mistério dos seus subterrâneos com cabos e canos.”
Não posso deixar de refletir em voz alta, nesta hora inaugural de minha investidura, nos laços que aproximam a diversidade dos que para esta cadeira foram eleitos. Prefiro falar nos extremos, para demarcar a compreensão que tenho do amplo sentido do lugar que passo a ocupar na Academia. Pouco mais de um século separa o modo de pensar o mundo, de João Monteiro, patrono da Cadeira nº 22, e o de Inezita Barroso, penúltima eleita para ocupá-la. Seis pessoas, antes de mim, tiveram a mesma honra. Há, no modo como João Monteiro pensava e falava e no modo como Inezita Barroso pensava e exprimia seu pensamento, no repertório que define sua biografia intelectual, um verdadeiro documento de história social e do conhecimento, um grande salto do que não éramos para o que somos, do Brasil copiado da França da Revolução Francesa, com tardança de um século, para o Brasil que de fato éramos e que só fomos descobrindo aos poucos, sofridamente, à custa de muito suor e de muito sangue. A história dessa travessia rumo ao Brasil profundo, o Brasil caipira e sertanejo, o Brasil do nosso eu, do nosso também fomos e somos, passou por aqui, pelo coração e pela mente dos que, ao longo dos anos, foram titulares da Academia: dentre eles, Ruth Guimarães e Inezita, mas também, Valdomiro Silveira, Otoniel Mota, Amadeu Amaral, Monteiro Lobato, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Alceu Maynard Araújo, Oracy Nogueira. Sem contar Plínio Airosa, professor de tupi na Faculdade de Filosofia da USP, língua de que o português se nutre na formação do dialeto caipira, que é sumo e sumário de um falar proibido no século XVIII, até hoje estigmatizado, mais por ignorância e preconceito do que por conhecimento e sabedoria, um falar que insiste, persiste e resiste.
Peço-lhes licença para desviar-me do convencional e fixar-me nessa perspectiva que, de certo modo, expressa o que é a história da própria Academia Paulista de Letras e de seu lugar na história de como falamos e de como pensamos.
João Monteiro, o patrono desta Cadeira, era mais o jurista do que o literato. Nascido muito pobre, desistiu de trabalhar no comércio para vir para São Paulo estudar direito e aqui permaneceu, tornando-se professor da Faculdade do Largo de São Francisco. Foi homem cultíssimo, poliglota. Era justificadamente vaidoso, narcisista, como comenta Spencer Vampré, que nos narra uma anedota própria das tradições viperinas das Arcadas. Contava-se que, certa vez, teria dito ele em aula: “Estávamos reunidos sete sábios...”
Notabilizou-se por discursos e conferências carregados de citações em francês, língua que falava e escrevia fluentemente. Mais de uma vez fez conferências em refinado francês, aqui mesmo em São Paulo. Isso não era estranho. Foi ele uma grande expressão da visão de como muitos intelectuais de seu tempo concebiam o Brasil que queriam, o Brasil republicano, moderno e racional, negação e avesso do Brasil que éramos, caipira, negro e mestiço, o Brasil das crenças e sentimentos. Essa é a fratura que nos divide até hoje. Em 1902, fez no Teatro Santana, na Rua da Boa Vista, uma conferência sobre Vitor Hugo, repleta de citações literárias em francês, como era moda na época. O francês era língua de uso cotidiano na São Paulo rica e culta. Quando o compositor Camille Saint-Saëns esteve em São Paulo, em 1899, os jornais paulistanos chegaram a publicar comentários em francês, nessa língua enviado por leitores. Já antes do tempo de João Monteiro, Álvares de Azevedo, paulista, estudante da Faculdade de Direito, que tinha a família na Côrte, escrevia à mãe em francês e mencionava, com verdadeiro horror, as moças da sociedade paulistana que falavam no dialeto caipira, carregando a conversação no acento nheengatu, nos bailes e saraus da casa da Marquesa de Santos e do Brigadeiro Tobias, na Rua Alegre. Era-lhe acabrunhante ouvi-las desculparem-se pela falta de refinamento com um rústico “Nóis num sabe dançá.”
As cartas de Álvares de Azevedo nos mostram que esse horror não era um horror absoluto, uma repulsa. Foi ele com o tio à festa caipiríssima da Santa Cruz no antigo aldeamento de São Miguel, um dos lugares de nascimento da cultura caipira. Foi também à festa de São Bom Jesus de Pirapora, outra celebração caipira, que persiste. Nessa justaposição, temos claramente que o europeísmo dominante era apenas um componente da identidade fragmentada, do duplo que somos. Até hoje, nossa duplicidade está no modo como usamos a língua. Escrevemos segundo as regras de manual dos gramáticos e falamos segundo as regras da tradição. Na conversa coloquial é raro que o infinitivo dos verbos tenha o erre respeitado e acolhido. É um “falá” pra cá, um “dizê” pra lá, o nheengatu do dialeto caipira insistindo em nos lembrar quem realmente somos. A mais antiga rua de São Paulo tem nome nheengatu, é a Rua da Tabatinguera, ainda do tempo do Cacique Tibiriçá, que certamente por ela subiu e desceu. Mesmo hoje os lugares de referência da região demarcam nossa geografia imaginária com palavras nheengatu. Ao menos 30 estações de trem e de ônibus da área metropolitana de São Paulo tem nomes nheengatu: Ipiranga, Pirituba, Pari, Capuava, Tamanduateí, Mooca, Butantã e outras tantas. Não posso vir às reuniões da Academia se não passar pelo córrego Pirajuçara ou pelo ribeirão Anhangabaú. Se não falo nheengatu, não chego aqui.
João Monteiro era republicano, positivista, maçon, anticlerical e católico. Num certo sentido era herético. Para ele, Voltaire era o Cristo do século XVIII. Em dois discursos para os formandos de Direito, das primeiras turmas que se seguiram à queda da monarquia, dizia que a Faculdade de Direito os oferecia à República para disseminar a modernidade do Direito. No fundo, para remover da realidade do país os arcaísmos persistentes, de leis e códigos pré-modernos, componentes e fatores do nosso atraso. Num segundo discurso, em 1894, atenua suas expectativas quanto à realidade republicana. O país ainda não saíra completamente dos tumultuados anos do autoritário governo de Floriano Peixoto, a república idílica abalada na essência de sua ideologia pela crua realidade antirrepublicana dos fatos.
Essa mentalidade dominará o regime por longo tempo. Os republicanos brasileiros acreditavam que estavam aqui fazendo com atraso de um século a Revolução Francesa. Os que viviam no Brasil, pensando como franceses que não eram, acreditavam piamente que, em nome da civilização, estavam combatendo a barbárie. Civilização contra a suposta barbárie dos simples, dos rústicos, dos caipiras e sertanejos, pressuposto que de vários modos e em diferentes versões marcará a história republicana e terá nomes de ambos os lados aqui na Academia. Na Cadeira nº 22, esses extremos marcam a distância entre João Monteiro e Inezita Barroso.
Essa Cadeira foi ocupada, antes de minhas duas antecessoras, por outros ilustres nomes da cultura paulista, como já mencionei, desde seu primeiro titular, Estêvão de Almeida. Católico e monarquista, foi redator-chefe do jornal católico A Reação. Portanto, era o oposto do nome que ele mesmo escolhera para patrono da Cadeira que aqui fundava. Fora aluno de modestas condições da Faculdade de Direito, de que se tornaria professor por concurso. Destacou-se como advogado e autor de livros jurídicos de referência. Segundo um de seus biógrafos, Alfredo Buzaid, que foi membro da Academia, são poucos os textos propriamente literários que produziu, de que o biógrafo encontrou dois artigos no jornal O Estado de S. Paulo, sobre adágios. Sua literatura está mais na fala da tribuna e da cátedra, no tempo em que a retórica tinha status de texto literário, falas que viravam livros, como se vê na obra de João Monteiro.
Seu filho Guilherme de Almeida foi seu sucessor, cuja poesia conheci da maneira menos convencional. Criança ainda, no tempo da Segunda Guerra mundial, a molecada de minha rua de terra, casas de trabalhadores infiltradas entre grandes fábricas, marchavam com cabos de vassoura ao ombro, fazendo de conta que eram expedicionários da FEB, cantando os versos de Guilherme: “Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais”. A guerra era um misto de fantasia patriótica, a desses versos, e da crua realidade do racionamento do pão, do blecaute, do medo das delações de vizinhos e conhecidos. O maior palavrão dos moleques de minha rua era “quinta-coluna!”, expressão das suspeitas sob as quais viviam os moradores dos bairros e do subúrbio operários, na maioria estrangeiros ou filhos de estrangeiros. Muitos tinham acentuado sotaque das línguas de sua origem, mesmo que remota.
Não era estranho que a poesia de Guilherme de Almeida nos chegasse desse modo insólito e não através de livros. Fiz os dois anos finais da escola primária quando morava na roça. Tinha que caminhar 16 quilômetros, de ida e volta, entre nossa casa de pau-a-pique e o Grupo Escolar Pedro Taques, na estação de Guaianases. Era o povoado em que havia morado por um tempo a poetisa Francisca Júlia da Silva, em cuja capela se casou com um telegrafista da Central do Brasil, sendo padrinho Vicente de Carvalho, que foi membro da Academia. Numa manhã de 1948, o diretor da escola entrou na sala de aula para dizer-nos, consternado, que Monteiro Lobato havia falecido. Ficamos chocados, porque não tínhamos a mínima ideia de quem era ele. Nos limites e confins da cidade, numa escola em que as crianças compareciam descalças, a literatura não chegava, apenas respingava. Só fui ler um texto de Lobato quando um farmacêutico de São Caetano “receitou-me” uma colher de sopa de Biotônico Fontoura antes do almoço e outra antes do jantar. Na caixa do remédio vinha um exemplar de Jeca Tatuzinho, ilustrado por Belmonte. Um livrinho medicinal. Um “best seller” da literatura brasileira, alguns milhões de exemplares publicados e distribuídos. Por que será que literatura deixou de ser remédio? Nossa saúde cultural e, sobretudo, literária melhorou? Já tivemos alta? Saiu no jornal?
Outra “fonte” literária andava de bonde. No tímpano dos bondes abertos, era impossível não ler estes versos atribuídos a Bastos Tigre: “Veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem a seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou-o o Rhum Creosotado!” Tanto vi e tanto li os versos que os decorei e não consigo me livrar deles até hoje, quando estou precisando de espaço na memória! Olavo Bilac também escrevia versos e reclames, como se dizia, para jornais, revistas e almanaques. Tinha uma tabela: 30 mil réis pelo texto e 200 mil réis pelo nome.
Na vida de filhos de trabalhadores, era assim que a literatura chegava, como amostra e remédio, como item de uma economia moral, que era a economia do trabalho, em que livros eram avaliados pelo equivalente do arroz e do feijão que se deixava de comprar para ter um livro. O que parece sugerir que o livro era um ótimo remédio para emagrecer. A maior tunda que levei de minha mãe, aos 7 anos de idade, foi por ter gasto 12 cruzeiros, destinados à compra de um livro paradidático, que gastei na compra de três livros infantis, pois o livro recomendado pela professora estava em falta na papelaria. Uma surra inesquecível. Só não consigo lembrar o nome dos livros que motivaram o meu castigo.
Mesmo quando havia o livro, faltava alguma coisa. Minha cidade suburbana só foi ter biblioteca pública, com um acervo doado pelo Rotary Club, quando eu já estava saindo da adolescência. Um amigo foi visitá-la e perguntou ao esforçado diretor o que é que a biblioteca tinha dos clássicos. “Nada”, respondeu ele. “Por enquanto só temos brochuras.” Muitas das quais li com grande interesse e prazer.
O sucessor de Guilherme de Almeida, a seu modo, também passou por minha vida. Raimundo de Menezes, que fora delegado de polícia em Santos e foi quem fez a ocorrência do suicídio de Alberto Santos Dumont, era um homem cuja personalidade mansa contrastava com a que se espera de um delegado. Foi biógrafo e historiador. De seus livros, destaco os três volumes sobre São Paulo. Retomou a obra de Afonso A. de Freitas, de Nuto Santana e de Ernani Silva Bruno, que haviam sido ou seriam desta Academia, de Paulo Cursino de Moura e de Antônio Egídio Martins. Adotou o estilo do contador de casos, juntou os fatos históricos numa narrativa literária, fluente, encantadora.
Um dos casos é aquele em que narra a história de Manoel João Branco, que o historiador paulista do século XVIII, Pedro Taques de Almeida Paes Leme, definiu como caduco, coisa que ele deve ter ouvido diretamente de pessoas cujos pais haviam conhecido o excêntrico paulista. Tudo porque Manoel João decidira, já idoso, ir a Portugal beijar a mão do rei Dom João IV, da recém entronizada Casa de Bragança. Era parente de Amador Bueno, o aclamado rei de São Paulo, salvo da insistência da turba pelos monges de São Bento, que o abrigaram e saíram ao largo de cruz alçada para dispersar os amotinados. Caduco ou não, provavelmente Manoel João quis deixar claro que nada tinha a ver com aquilo. Já transformado em boato há longuíssimo tempo, eu ouvira o caso na escola: Manoel João levou, para presentear o reconhecidamente culto monarca, compositor, um cacho de bananas de ouro. Moleque de 11 anos de idade, eu vendia bananas na porta de uma fábrica perto de casa. Sabia que um cacho de bananas pesava muito, tem em geral dez dúzias, 120 bananas. Embora eu deteste bananas, sentia-me orgulhoso por saber que um brasileiro havia esnobado o rei de Portugal. Aquilo era ouro pra xuxu. Ouro do Jaraguá, primeira mina de ouro do Brasil, de que Manoel João era administrador, além de ter terras em vários lugares da região, moínho de trigo no Anhangabaú e pasto no bairro do Tijucuçu, que ia da Mooca até onde é hoje São Caetano.
Tanto fez que foi recebido pelo rei, que lhe deu a mão a beijar. Em troca, como era caduco, pediu ao rei apenas todas as terras da região de Guaratinguetá, da Serra da Mantiqueira à Serra do Quebra Cangalha. Raimundo de Menezes esfriou o meu orgulho nativista ao explicar que o cacho de bananas era apenas uma joiazinha feita na Bahia, o que para mim descaducou o caduco.
Conheci de vista Odilon Nogueira de Matos, professor de História na Faculdade de Filosofia da USP, que veio depois de Raimundo de Menezes. E conheço pessoas que foram seus alunos ou seus amigos. Também conheço uma parte de sua obra, que é obra de professor, um historiador da historiografia. Obra bem cuidada, ferramenta de trabalho para uso dos pesquisadores de História, obra de quem põe ordem onde a ordem é necessária. Coisa do calvinista, que ele era. Um de seus livros reúne resenhas de quase 400 livros da Coleção Brasiliana da Companhia Editora Nacional, o que permite ao pesquisador ter dela uma visão de conjunto. Escreveu, também, um livrinho que é indispensável introdução à obra do botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, cujos relatos de viagem científica foram editados no Brasil fragmentariamente, o que priva o leitor de saber a ordem de publicação adotada pelo próprio autor. Agora é possível ler Saint-Hilaire sabendo o que e quando, em que sequência, o que é parte do que. Também Afonso d’E. Taunay, que foi membro da Academia, tem obra extensa e dispersa, que pedia uma sistematização, um guia, coisa que Odilon Nogueira de Matos fez com erudição e paciência. O guia de Odilon situa o grande historiador das bandeiras e seu modo de pesquisar e tematizar, o que é fundamental para os pesquisadores de hoje. Taunay escreveu muito, foi incansável pesquisador, porém muito dispersivo e um tanto distraído. Encontrei dele, por acaso, na biblioteca do Museu Paulista, que eu frequentava, no meio de um volume dos Anais, o original de um artigo extenso que ele usara como marcador de página e lá o esquecera.
A sucessora de Odilon Nogueira de Matos, Ruth Guimarães, é a melhor expressão da polarização de mentalidades em relação ao patrono da Cadeira nº 22, João Monteiro, a que me referi antes. Além das traduções e de livros de orientação temática vária, sua obra pode ser dividida entre os livros de etnografia do mundo rural, especialmente o da cultura caipira, caso de Os Filhos do Medo e de Medicina Mágica; Simpatias, e os de ficção, como Água Funda, que teve segunda edição prefaciada por Antonio Candido, seu contemporâneo na USP, e o admirável Contos de Cidadezinha, um título pequeno para um grande livro. Esses dois grupos se interrelacionam. As obras de ficção sobre o mundo caipira foram o coroamento das obras etnográficas, a pesquisa atenta e minuciosa sobre detalhes da cultura caipira. Ruth Guimarães foi aos fundamentos do ser caipira. Seu estudo sobre o medo é, sobretudo, o resultado de uma pesquisa sobre o lugar de Satanás na formação da cultura caipira, o demo manipulado pelos missionários do período colonial que resultou numa sociedade de pessoas de personalidade dividida, bifronte, entre direito e avesso, o dia e a noite, o visível e o invisível, o que se preza e o que se teme. Uma sociedade de fala contida e de silêncios profundos.
Ruth e Guimarães Rosa eram amigos. Não é de estranhar que também ele tenha feito trabalho de campo nos sertões de Minas, acompanhando a tropa de Manoelão, para registrar e compreender a linguagem dos duplos e avessos, Diadorim, a das formas do falso, na rica compreensão que Walnice Galvão desenvolveu da obra de Rosa. Ruth Guimarães descobriu que Satanás é também o inominável. Na cultura caipira, a crença na força dos nomes é tão grande que só de mencioná-los o nominado se materializa e ganha vida maléfica sobre quem o invoca. Dizer o nome já é invocar o Coisa-ruim, o Dito-cujo. Ruth levantou mais de cem denominações indiretas do diabo. Em Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa usa pelo menos dez designações diferentes para Satanás, uma forma de mantê-lo prisioneiro da inominalidade.
O estudo de Ruth Guimarães abrange um número extenso de figurações do maligno e suas diferentes falsas denominações. Ela poderia ter estendido sua análise à função social dos apelidos, tão comuns na roça e entre descendentes de caipiras. Provavelmente, remanescente das culturas indígenas em que os nomes geralmente são conhecidos de um número muito restrito de pessoas. O nome não é necessário, já que cada um é uma posição na estrutura de parentesco. Helena Valero, adolescente brasileira do Amazonas, que foi ferida e sequestrada pelos índios Ianomami quando estava com a família na roça, nos anos 1930, cresceu no grupo que a sequestrara e ali teve marido. Só veio a saber seu nome quando ele morreu. É muito provável que o costume caipira e sertanejo de por apelidos nas pessoas venha desse traço cultural indígena, um nome substitutivo para o nome verdadeiro e oculto.
Nossa autora foi crítica em relação a dois grandes nomes desta Academia, que haviam se dedicado à cultura caipira Valdomiro Silveira, seu conterrâneo e de Gabriel Chalita, autor, dentre outros livros, de Os Caboclos e Leréias, e Amadeu Amaral, no que nos interessa autor de Tradições Populares e de O Dialeto Caipira. Amadeu Amaral não teve pretensões de uso literário do linguajar caipira. Mas Valdomiro Silveira teve. Em tese, seus contos são escritos na linguagem caipira, baseados nos registros de expressões e palavras usados em festas e funções principalmente e registros de nomes de plantas e de animais, estes quase sempre nomes da língua geral. É fácil observar, em Valdomiro Silveira, a persistência do infinitivo dos verbos, o contrário da fala caipira, que neles suprime o erre. Ruth, num estudo sobre Os Caboclos, diz que nele faltou “o ser caipira”, crítica que em outro texto estende a Amadeu Amaral, o que não lhes tira o mérito literário. Escritora com formação universitária em literatura, trouxe para a Academia a leitura crítica dos autores como complemento e não como objeção. De certo modo ela está nos dizendo que, mesmo na literatura, há um caipira de imitação, bem diverso do caipira do vivencial.
Ela não diz, mas certamente compreendeu, que a cultura caipira é a cultura de uma tensão permanente entre o visível e o invisível, o que complica a narrativa do regionalismo paulista, de que Valdomiro Silveira é conhecido como inaugurador. A narrativa regionalista e literária, orientada para o pressuposto de que o falado já contém a inteireza do que é dito, perde o rico conteúdo do não dito e do invisível. O pressuposto é falso. Não é incomum que o caipira, na conversa com o citadino, pretensamente culto, fale uma fala compreensível ao interlocutor, mas continue fazendo gestos que são complementares do dialeto caipira, isto é, uma linguagem gestual e silenciosa, paralela, desconstrutiva e crítica da linguagem dominante.
Em seu romance Água Funda, Ruth expõe um uso refinado de sua compreensão da cultura caipira. Ela não usa uma linguagem de imitação, como fazem outros autores. Ao contrário, recorre a um aspecto pouco referido da estrutura da linguagem caipira, que é o do preenchimento dos vácuos de silêncio com adágios e frases feitas. O vocabulário caipira é muito rico, cheio de palavras de origem nheengatu e de palavras do português arcaico. Portanto, um vocabulário de cada vez maior pobreza comunicacional com os urbanos da cidade, mas também com os urbanizados que foram educados nas escolas de roça nos pressupostos pedagógicos da língua portuguesa oficial, equivocadamente apresentada como única e verdadeira língua brasileira.
A função comunicativa do adágio é justamente a de preencher as lacunas de uma língua que foi proibida e mutilada, a língua geral, os nativos e mesmo os portugueses da Colônia proibidos de usá-la, em 1727, e obrigados a falar português. Pero de Magalhães Gandavo, já no século XVI, chamara a atenção para a ausência, na língua dos índios da costa, das letras F, L, R, o que se refletirá no nascimento da cultura e do dialeto caipiras, no século XVIII, isto é, do português falado com sotaque nheengatu, a língua boa da definição de Couto de Magalhães, patrono de uma das cadeiras da Academia, caso das palavras do infinitivo dos verbos e das consoantes dobradas, como falá, dizê, chorá, muié, cuié, orêia. Entre a língua geral e o português não existe um elo de mera tradutibilidade. Isso fica muito claro no Vocabulário Português-Nheengatu/Nheengatu-Português, de Ermano Stradelli, fluente na língua nheengatu, que viveu no Amazonas muito tempo e morreu num leprosário de Manaus em 1926. É compreensível, portanto, a existência desses vácuos de linguagem na fala daqueles para os quais a língua portuguesa é uma língua forçada.
Pude compreender melhor essa opção de Ruth Guimarães durante a extensa pesquisa que fiz na região amazônica nos anos 1970 e 1980 para escrever meu livro sobre a Fronteira. Como estava fazendo um estudo sobre conflitos sociais, num certo momento notei que os adultos, com quem conversava, não tinham clareza sobre alguns aspectos da situação que viviam. Eles compreendiam a realidade na perspectiva do medo. Decidi fazer uma pesquisa paralela com crianças, pois havia notado que elas ficavam silenciosamente ouvindo o que eu perguntava e o que os adultos me respondiam. Em alguns povoados fiz às crianças uma única pergunta por escrito para serem respondidas por escrito. Em outros, de localidades próximas e de mesma característica, fiz as mesmas perguntas verbalmente e gravei as respostas. As entrevistas faladas foram respondidas com desembaraço. Apesar de serem famílias em grave situação de insegurança e de risco, as próprias crianças constantemente ameaçadas por pistoleiros, nas respostas faladas, fizeram narrativas longas e mesmo cheias de esperança. No sertão do Maranhão, uma menina, de uns 9-10 anos de idade, Regimar, vendo-me acabrunhado com o que ela me narrava, tentou animar-me dizendo que não me preocupasse. Tudo aquilo ia acabar. Sua família decidira ir embora do Brasil, ir para Roraima. No milenarismo ainda tão forte nas regiões sertanejas, é compreensível que a saída esteja numa terra prometida, oposta à terra negada, e que seja ela a negação do Brasil, a negação do negado. Nesses lugares as escolas são ranchos construídos pelos próprios pais, muitas vezes sem parede, e não é raro que os escassos professores sejam por eles pagos unicamente com pouso e comida. Já as respostas escritas foram lacônicas, sem continuidade, frases em que é evidente a palavra que faltou. Um dos meninos conseguiu escrever uma única frase inteira: “Eu sou um menino triste”. Tão triste quanto a resposta que me deu a jovem professora de um desses povoados sertanejos no sertão do Maranhão, quando lhe perguntei quanto ganhava: “Ganho por mês o mesmo que numa noite ganha uma puta.”
A língua mutilada se presta mal para elaboração da consciência das situações vividas por seus falantes. Sobretudo porque a língua escrita é capturada pelas normas da língua oficial, enquanto a língua falada é capturada pelas normas da língua oculta. Para se ter uma ideia da dificuldade aí contida, na lógica distinta de uma língua e outra, menciono algumas palavras que minha mãe, criada na roça e sem escolaridade, usava no dia a dia, no subúrbio de São Paulo: tapera, tiguera, quirera, pacuera, do mesmo modo que Ibirapuera, Itaquera, Anhanguera. Isto é, aquilo que foi, não é mais, mas continua sendo porque é outra coisa sendo essencialmente a mesma. Nós não temos isso em português, pois ou a coisa foi ou é ou será. Isso explica o dialeto caipira como uma sublíngua de uma linguagem dupla e mesmo contraditória.
A escolha de Inezita Barroso, pela Academia, como sucessora de Ruth Guimarães, tem todo sentido. Inezita era urbana, teve formação universitária na mesma Universidade de São Paulo em que Ruth Guimarães estudou. Inezita passou do violão urbano à viola caipira de dez cordas, fez pesquisa de campo e se interessou particularmente pela pronúncia caipira. Num depoimento aos alunos da Escola de Comunicações e Artes da USP, explicou quanto lhe foi trabalhoso o registro da moda da “Marvada Pinga”. Tinha que pedir aos cantores que repetissem trecho por trecho o que cantavam para que fizesse o registro correto do que ouvia: “É co’a marvada pinga que eu me atrapaio. Eu entro na venda e já dô meu taio, Pego no copo e dali num saio, Ali memo eu bebo, Ali memo eu caio. Só pra carregá é que eu dô trabaio.” Não raro, outros intérpretes corrigem a linguagem dessa moda de viola, partindo da falsa premissa de que a fala caipira é português errado, o que lhes prejudica completamente a interpretação. Novos intérpretes tem feito essas correções em músicas sertanejas antigas, ainda próximas da raiz caipira de sua origem, o que acaba mutilando métrica e rima e desfigurando a composição e o ritmo e a musicalidade tão própria do modo caipira de falar.
Inezita Barroso deve ser situada num movimento cultural que tem início nas décadas finais do século XIX, pela época da Abolição da escravatura e da Proclamação da República. É o movimento de fundo nativista de busca e afirmação de uma identidade brasileira, mas que aqui em São Paulo foi também de afirmação da identidade paulista. É um movimento de busca das raízes da nacionalidade. Na pintura, a figura que melhor o representa é Almeida Júnior, com as obras que tem o caipira como tema: “Amolação interrompida”, “O violeiro”, “Caipira picando fumo”, “Caipiras negaceando”. Sobre este último quadro, em minha primeira visita à Pinacoteca do Estado, ainda adolescente, Túlio Mugnaini, seu diretor, que passava e me viu ali, olhando-o de boca aberta, deu-me uma aula sobre a pintura do artista ituano. Chamou minha atenção para um pequeno detalhe no meio da escuridão da floresta: o auto-retrato do pintor que, assim, alegoricamente e emblematicamente, se situava como personagem do mundo caipira. Sua pintura não apenas traça uma representação do caipira, mas o pintor se emparelha com ele, revelando-se, ele próprio, um caipira, um conhecedor dos códigos próprios dele. Tarsila do Amaral, que incluiu a roça na temática de suas pinturas, recebeu “O violeiro” de presente do pai, hoje na Pinacoteca do Estado.
Na música, Alexandre Levy fez pesquisas na roça, e incorporou as sonoridades roceiras à sua música, como fez com um samba de umbigada de escravos, acaipirado, recolhido em Rio Claro. Mesmo a alimentação teve uma revolução regionalista e patritótica. José Estanislau do Amaral, grande fazendeiro, pai de Tarsila, não dispensava, no jantar, a sopa liofilizada importada da França. Mas nos anos 1920, um fotógrafo de rua incluiu na composição de uma de suas fotos uma placa de restaurante que anunciava como prato do dia o virado à paulista, até hoje servido em muitos restaurantes nas segundas-feiras: virado de feijão com farinha de milho, torresmo, couve picada e ovo, uma comida que meus tios levavam para a roça como almoço ou merenda. Sobrenomes foram mudados. Um Jorge de Almeida Prado, de Itu, mudou seu sobrenome para Tibiriçá Piratininga e com esse nome se tornaria governador do Estado no início da República. Um escravo nascido em São Caetano, em 1855, que seria alforriado em 1871, Nicolau Tolentino, adotou o sobrenome Piratininga. Ele se tornaria um seguidor de Luís Gama e um ativista das irmandades abolicionistas.
Um momento importante desse movimento, que se relaciona diretamente com a violeira e cantora que Inezita Barroso viria a ser, foi a vinda a São Paulo do violeiro e compositor Pedro Vaz, primo de Fagundes Varela, fluminense de Resende, que em 1887 tocou no Teatro Provisório da Rua Boa Vista. Foi apresentado por Ezequiel Freire, autor de “Flores do Campo” e patrono de uma das cadeiras da Academia. Tocou cateretês, modinhas, valsas, fandangos e lundus de sua composição. Foi ouvido pelo escritor português Ramalho Ortigão, que nessa ocasião se encontrava em São Paulo. Não se limitou às modas propriamente caipiras, mas abrangeu a música urbana de então, algo que Inezita também faria, com “Lampião de Gás”, “Viola quebrada” e outras composições que retém da tradição caipira o imaginário da perda e do desenraizamento. Até a época da apresentação de Pedro Vaz, a viola era um sinal de defeito de caráter, frequentemente apontada como estigma nos anúncios de escravos fugidos, especialmente os mulatos.
O movimento se estende até hoje, com variantes que respondem à circunstância de cada momento. Cornélio Pires, primo de Amadeu Amaral, caipira de velha cepa, fez em 1910, na Escola Americana, hoje Mackenzie, uma conferência sobre o mutirão e a cultura caipira. Trouxe catireiros do interior para ilustrar sua fala. Ele se tornaria o principal responsável pela durabilidade da música caipira na sua versão de música sertaneja e urbana. É dele a “Moda do bonde camarão”, das primeiras gravações por ele realizadas, que Inezita Barroso também gravaria mais tarde. Essa moda é uma composição documental do enraizamento do caipira cultural na tradição conservadora e expressão da crítica popular às inovações próprias da sociedade moderna. Tudo que acontece no sacolejo desse bonde, então uma novidade técnica no transporte urbano de passageiros, nega a concepção de decoro do caipira, que era a dos paulistas antigos, que evitavam a proximidade física com os estranhos, cujas mulheres de preferência permaneciam dentro de casa ou dela saíam apenas acompanhadas.
Essa gravação de Inezita Barroso confirma em sua biografia intelectual o seu apreço pela música caipira como música de identidade, no espírito do movimento a que me refiro. Nem em seu caso nem no caso dos músicos, compositores e cantores de música caipira, das gerações seguintes, houve vacilação quanto à tradição caipira enquanto fundamento de identidade.
Renato Teixeira, autor de “Romaria” representa uma variante que restaura o que é propriamente estrutural no dialeto caipira. Conversei com ele sobre isso, que ficou muito surpreso, pois não sabia que havia feito isso. Nele, a dupla linguagem, que resulta da fratura que dividiu o caipira em dois seres conviventes, veio naturalmente como é próprio dos falantes do dialeto caipira. Nessa composição, mais do que em qualquer outra da história da chamada música caipira, as duas linguagens relacionadas com o surgimento do dialeto caipira, enquanto linguagem do duplo e do avesso, estão claramente presentes. Há nela uma superposição de nheengatu e de caipira, como uma colagem de línguas: “Sou caipira Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.” Uma palavra ou uma rima puxa a outra palavra, o sentido do que está sendo dito fica submerso entre dois modos de dizer. O recurso reaparece em “Tocando em frente”, de Almir Sater e do mesmo Renato Teixeira, agora no jogo de palavras de realidades do mundo moderno.
É nessa linha de criação do novo no marco dos valores da tradição conservadora, que situo a obra e a música de Ivan Vilela, que tocará no fechamento desta cerimônia. No meu modo de ver, ele é o maior violeiro deste País, tanto na execução quanto na composição, um elo de ouro no movimento que nos vem, quase em surdina, desde o limiar da modernidade brasileira e paulista no século XIX, a mesma que teve em polo oposto o pensamento de João Monteiro, patrono da Cadeira nº 22. Em Ivan Vilela, a música de Pedro Vaz se reúne com a pintura de Almeida Júnior, é uma música pictórica, que só pode ser tocada na viola caipira, por alguém que é, ao mesmo tempo, erudito e caipira. Ivan Vilela, Renato Teixeira, Almir Sater e outros nomes eminentes dessa linha de música de identidade foram frequentes no programa de Inezita Barroso, “Viola minha viola”, o que é bem indicativo do que ela era como intelectual e intérprete.
Nessa tradição de música, ao mesmo tempo, identitária e inovadora, há um implícito propósito, uma busca, de unir os dois polos estéticos da fratura que nos divide culturalmente, a do mundo dos simples e a do mundo dos cultos. O que nos indica uma contrapartida do movimento a que me refiro. Ela se situa no esforço republicano da revolução através da escola. Revolução, entre nós, não a que subverte o real, mas a que unifica o real, que junta o real cindido pelas grandes separações que herdamos do Brasil Colônia. O melhor representante desse movimento foi, sem dúvida Júlio de Mesquita Filho, membro da Academia. Fê-lo ao propor e viabilizar a criação da Universidade de São Paulo, da qual, não por acaso, Ruth Guimarães e Inezita Barroso foram alunas. A Universidade pública, laica e gratuita foi propositalmente a ponte entre esses dois mundos, que a dominação colonial separara. Com Guimarães Rosa, podemos dizer, então: “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”.
Senhoras e senhores, como já deu para desconfiar, com a minha posse, o caipira está de volta à Academia Paulista de Letras.
 voltar
voltar