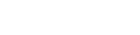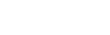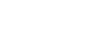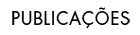|
 |

Acadêmico: Djamila Ribeiro
Nós, mulheres, sabemos como nosso caminho passa por um funil mais apertado, mas nos apoiamos em nossas mais velhas para termos a força e sabedoria de abrirmos caminhos para as gerações que estão aqui e as outras que virão.
DISCURSO DE POSSE
SOBRE OS IMORTAIS DA CADEIRA 28
Sempre quis ter serenidade. Assim começo uma das dezenas de cadernos de anotações que tenho, hábito que herdei do meu pai Joaquim. À época eu tinha 31 anos e, em meio a algumas angústias existenciais, foi a primeira frase que veio à mente. Quando olho para aquela menina de 8 anos que ganhou de seu pai “As vestes novas do rei” de presente por ter passado de ano direto, percebo que o desejo por serenidade talvez fosse sentir novamente a paz da criança que se encanta com a leitura. “O rei está nu, o rei está nu”, será que você não percebeu tantos anos depois, Djamila?, questiono a mim mesma.
Ter sido criada em meio a livros e movimentos sociais moldou muito de quem sou hoje. Joaquim José Ribeiro dos Santos e Erani Benedita dos Santos tiveram quatro filhos: Denis Paulo, Helder Francis, Dara Laís e Djamila Taís. Todos nasceram em Santos, no Hospital dos Estivadores, função que me pai desempenhou até o resto da vida. A exceção fui eu. Minha mãe foi passar férias na casa da minha tia Edna, sua irmã mais velha, em São Paulo. O médico havia dito que eu nasceria somente no dia 15 de agosto e que minha mãe poderia ir tranquila. Talvez por pressa de sentir o colo macio de minha mãe, nasci no dia primeiro de agosto pegando todo mundo de surpresa. Nasci no Hospital das Clínicas, em SP, às 18h do dia primeiro de agosto de 1980. Minha mãe costumava dizer que havia uma linda lua cheia no céu e que eu era muito risonha. Após nascer, fui registrada em um cartório em SP, e voltei com minha mãe para Santos onde cresci e vivi até 2016. Quando me perguntavam se eu era paulistana, sempre respondia: só nasci em São Paulo, mal conheço. Sou natural de Santos. A cidade em que me pai nasceu, abrigou a minha mãe piracicabana, onde meus irmãos e irmã nasceram, eu conheci o pai da minha filha com quem fui casada por 13 anos, e minha filha nasceu em 2005, na Maternidade da Santa Casa de Santos.
Em Santos, tive o primeiro amor platônico, conheci amigas que se tornaram irmãs, brinquei na praia até esgotar a paciência de minha mãe, onde dei meu primeiro beijo e vivi minhas primeiras frustações e decepções. Ali, entre o canal 4 e 5, na Praça Coronel Fernando Prestes, vivi os 22 primeiros anos de minha vida. Sobretudo, foi o lugar em que Thulane, minha filha, me ensinou a ser mãe.
Thulane é um nome da língua swahili que significa “aquela que veio para trazer paz”. Tirei o nome dela do mesmo jornal da militância negra que meu pai tirou o meu, o Jornegro. Talvez Thulane tenha arraigado em mim o desejo por serenidade. A partir de seu nascimento, eu desejei ser uma pessoa melhor. Meus pais faleceram em anos consecutivos, minha mãe em 2001 e meu pai em 2002. O nascimento de Thulane em 2005 me devolveu o pertencimento. Fui forçada a olhar pra mim e perceber que eu era mais parecida com minha mãe do que eu pensava ser. Mais que isso, fui me aproximando daquele feminino de que fui ensinada a desprezar. Sim, meu pai me apresentou o amor pelos livros, me colocou para aprender a jogar xadrez, incentivou a estudar ao mesmo tempo que levava a mim e meus irmãos a todas as reuniões do sindicato dos estivadores e me fazia gritar palavras de ordem aos seis anos de idade como “o porto é do povo!” em manifestações, mesmo que eu fosse entender os significados dessas palavras anos mais tarde. Meu pai sentava comigo e minha irmã e dizia: “vocês vão estudar, eu não quero minhas filhas dependendo de homem, escutaram?” para duas adolescentes atônitas. Eu cresci dizendo que jamais seria como a minha mãe, que “só” foi dona de casa e cuidou dos filhos. Daí vem Thulane me fazer desabar. Engana-se quem pensa que pacífica, significado do nome dela, é ser passiva. Pacífica é aquela que faz guerra se necessário para fazer a paz prevalecer. E Thulane, aquela que veio para trazer paz, promoveu guerras intensas em mim. Quando eu passava a noite em claro porque ela não dormia, eu pensava em minha mãe que precisou fazer isso com 4 crianças. Quando ela chorava sem parar, eu pedia silenciosamente desculpas a minha mãe por a ter jugado em seus momentos de irritação. E pensava: se eu com uma estou quase doida, imagina a minha mãe com 4? E assim fui apaziguando o feminino em mim. Sim, meu pai me incentivou a estudar, mas quem lavou as minhas roupas, penteou os meus cabelos, cozinhou a minha comida, me fazia ir impecável para a escola? Como escrevi no livro Cartas para a minha avó: Meu pai foi um grande incentivador dos meus estudos, mas era minha mãe quem levava eu e meus irmãos para a escola. Foi ela que nos ensinou a pegar ônibus para que pudéssemos ir às nossas atividades. Foi ela quem lavou e engomou nossos uniformes e penteou nossos cabelos de forma impecável para que fôssemos bem arrumados para a escola.
Acima de tudo, foi ela quem me ensinou a enfrentar a vida de cabeça erguida. Porque não basta somente incentivar aos estudos, era preciso ter alguém que também incentivasse a andar com a espinha ereta. O racismo poderia ter feito com que eu desistisse de muitas coisas na minha vida, não foi fácil ser a única aluna negra na escola de inglês, a medalhista no campeonato de xadrez; eu poderia ter o conhecimento, mas não ter a coragem. E sendo mulher negra é preciso ter os dois. Mas mais do que isso, minha mãe foi uma mulher extremamente inteligente, o mundo, acostumado a ver mulheres como ela pelas lentes da indiferença, é que não percebeu.
Minha mãe era uma mulher muito inteligente. As pessoas sempre a procuravam para pedir conselhos (além de recorrerem à sua incrível habilidade de destravar as costas - ela tinha uma técnica incrível pra isso!). De uma sabedoria e generosidade sem igual, ela conquistava a todos que de fato prestavam atenção nela, sobretudo minhas amigas, para quem ela virou uma espécie de conselheira. Meu pai, claro, nunca valorizou essas qualidades, nem sequer as enxergou.
Entre os amigos cultos dele do Partido Comunista, minha mãe era vista como a dona de casa, a mãe, a esposa, mesmo se esforçando para ser notada além desses lugares. Estar entre os homens que pregavam a revolução poderia significar ter de se confrontar com sua suposta falta de talento ou inteligência, na qual foi convencida a acreditar.
.
(...)
Ela se conformou em ficar com as pessoas que estavam habituadas a dobrar calças e passar camisas. Entre elas, minha mãe sempre seria a sábia, a grande conselheira, um talento em vias de ser descoberto, a eterna intelectual em potência. Dona Erani foi uma mulher com os pés rachados e os olhos tristes. E foram raras as vezes que alguém, em vez de olhá-la com desprezo ou desdém, perguntou qual era a história por trás daqueles olhos castanhos-escuros. Certa vez, uma vizinha comentou: "Que pé horrível, Erani, todo rachado!", numa tentativa de diminuí-la ou de simplesmente gritar uma opinião não requisitada que fez minha mãe comprar todos os tipos de cremes e lixas.
A vizinha poderia ter aceitado a feiura deles, ou até ter visto beleza, se tivesse questionado por onde aqueles pés haviam andado. Então, antes de mais nada, eu quero render as minhas homenagens a todas as mulheres que me antecederam, minhas pretas velhas, minha avó Antonia, a mulher que me salvou da náusea e minha mãe Erani. As mulheres responsáveis por eu ser uma mulher de candomblé. Fui iniciada aos 8 anos, levada por minha mãe, uma mulher de Ogum que seguiu os passos de minha avó Antonia, uma mulher de Nanã, benzedeira das boas. Sou uma mulher de Oxóssi com Iansã, do Odu 9, publicamente orgulhosa disso. Apesar de ter sido iniciada ainda criança, o colonialismo me expulsou do terreiro. Foi muito difícil voltar à escola com turbante, contas e os símbolos da religião. O ambiente de hostilidade fez com que eu sentisse vergonha de pertencer ao candomblé. Eu era obrigada a ir pela minha mãe, só quem teve uma mãe de Ogum sabe o quanto não é possível dizer não, mas eu me escondia. Quando minha mãe morreu, eu já estava afastada e foi aí que a separação se consumou. Mas quem diria que em 2010, ao ir à saída de minha grande amiga Flavia Monteiro, que havia se iniciado na religião, a reconciliação daria início. Assim que cheguei no terreiro da grande mãe Ana de Ogum, mãe de Flávia, essa linda Ialorixá me olhou e disse: ”seja bem vindo, Odé”. Eu me lembro de temer na hora e pensar “lá vem Mãe Ana com essas conversas, não quero saber de nada disso”. Respeito a religião, mas estou de boas. Mas assim que Flávia, filha de Iansã, saiu e foi apresentada para a comunidade, eu chorei copiosamente, soluçava sem parar e simplesmente não conseguia parar de chorar a ponto de acudirem com copos de água. Mãe Ana me olhava do outro lado do barracão calmamente, assentindo com a cabeça. Quando a cerimônia terminou, Mãe Ana me disse: “minha filha, você viu o estado em que você ficou? Você precisa cuidar, não precisa ser aqui comigo, mas você precisa cuidar”.
Três anos depois, eu conheci meu babalorixá Rodney William, o babalorixá mais bonito do Brasil, filho dileto de Oxóssi, acolhedor, sábio. Sou muito grata a pai Rodney por esse reencontro ancestral, conhece-lo foi um divisor de águas em minha vida. Me integrar ao Ilê Obá Ketu Axé Omi Nlá me colocou de volta para o caminho em busca da serenidade. Ele me ensinou a enxergar a grandeza do meu Ori. Sou grata à mãe Ana, pois foi Ogum quem pegou nas minhas mãos. Ogum ama Oxóssi, há um itã que diz: “onde Ogum pisa, Oxóssi pisa sem olhar”. Ogum abriu os caminhos para os braços de Iansã que me levou de volta a Oxóssi. Oxóssi voltou pra casa. Minha gratidão sempre.
Saúdo todas as mulheres imortalizadas nessa Academia. Betty Milan, da cadeira nº 4,¬¬ Maria Adelaide Amaral, da cadeira nº 35, Ruth Rocha, da cadeira nº 38 e Mary del Priore, da cadeira nº 39. Sabemos como nosso caminho passa por um funil mais apertado, mas nos apoiamos em nossas mais velhas para termos a força e sabedoria de abrirmos caminhos para as gerações que estão aqui e as outras que virão. Quero fazer uma saudação a todas as mulheres que passaram por esse espaço na pessoa de Ruth Guimarães, a primeira mulher negra imortal dessa Academia do Largo do Arouche. Ruth foi pioneira em um momento muito difícil. Seu livro Água Funda de 1946, foi um dos primeiros romances publicados por uma mulher negra após a abolição formal da escravatura. A obra nos leva para o sertanejo, para a vida do negro caipira. A narrativa é carregada de superstição e inventividade e para muitos críticos literários, Ruth antecipa o realismo mágico que seria intensamente lido e premiado décadas depois. Era uma menina iluminada que aos dez anos publicava versos em jornais do Vale do Paraíba. Há sessenta anos, abria caminhos como colunista no jornal Folha de S. Paulo, onde sou colunista hoje e foi por décadas professora da rede pública de ensino. Rendo aqui minhas homenagens e meus agradecimentos por percorrer um caminho que possibilitasse que eu estivesse aqui hoje.
Rendo aqui as minhas homenagens a essa cadeira 28, a qual jurei a meus pares confrades e confreiras honrar. Para que eu chegasse aqui, outras pessoas pavimentaram a trajetória dessa cadeira. Cantou meu amigo Milton Nascimento que “o trem que chega é o mesmo trem da partida, a hora do encontro é também despedida”. E a verdade é que estamos enlutados pela despedida recente da inigualável Lygia Fagundes Telles. De longe, aquela jovem adolescente de Santos lia seus contos surpreendentes e se elevava pela forma curiosa como ela detalhava as situações mais inusitadas. Aquela menina não imaginava que seus caminhos se cruzariam. Mas nas últimas semanas, é dela quem mais ouço falar.
Brilhante, esperta, divertida, companheira. Corajosa, sagaz, feminista. Seus amigos e admiradores têm muitos adjetivos para ela. Semana passada, descobri por meio do presidente Nalini que Lygia adorava gatos. Comprava ração para alimentar os gatinhos de rua que adoçavam seu coração. Lygia também abraçava árvores e abraçou algumas nos passeios semanais que fazia com Nalini. Ela dizia que as árvores lhe passavam recados. Eu te entendo Lygia, temos isso em comum.
Lygia era uma amante da vida, viveu-a intensamente. Há uma passagem da obra “A Disciplina do Amor” que gosto muito. Nela, escreve Lygia que “Na vocação para a vida está incluído o amor, inútil disfarçar, amamos a vida. E lutamos por ela dentro e fora de nós mesmos. Principalmente fora, que é preciso um peito de ferro para enfrentar essa luta na qual entra não só fervor mas uma certa dose de cólera. Fervor e cólera. Não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas”. E diz ainda: “O importante é a intensidade do empenho nessa busca. Falhando, não culpar Deus, oh! Por que Ele me abandonou? Nós é que O abandonamos quando ficamos mornos. Quando a vocação para a vida começa a empalidecer e também nós, os delicados, os esvaídos. Aceitar o desafio da arte. Da loucura. Romper com a falsa harmonia, com o falso equilíbrio e, assim, depois da morte —ainda intensos— seremos um fantasminha claro de amor".
Escreveu sobre as mulheres em sua complexidade, dentro de um campo literário de infantilização das personagens femininas. Personagens que em tantos casos foram descritas com uma pobreza de complexidade, como mero acessórios das tramas desenvolvidas ao redor dos homens. A Mulher é o Outro do homem, já disse Simone de Beauvoir. Mas em Lygia, não. Em seus trabalhos, nós somos reinventadas por outras formas de vida, sofisticadas e complexas como somos. Seu romance As Meninas talvez tenha sido a expressão mais conhecida da sua revolução na literatura brasileira. Lorena, Lião e Ana Clara, as meninas do pensionato de freiras, tão diferentes entre si, mas em comum unidas pela experiência de seu locus social. As mazelas do machismo, a busca pela liberdade sexual, a visibilidade de mulheres lésbicas. Esses temas estão lá, em meio a uma dura crítica à ditadura militar. Vamos relembrar que a obra foi publicada em 1973, anos plenos dos tempos de chumbo e Lygia em As Meninas descreveu minuciosamente a tortura sofrida por um botânico por agentes do regime. Que coragem! Quatro anos mais tarde, ela foi a Brasília, junto de Hélio Silva, Jefferson Ribeiro de Andrade e nossa querida imortal Nélida Piñon entregar o documento conhecido como Manifesto dos Mil, em que intelectuais pediam o fim da censura. Foi a maior manifestação pública da classe artística da década. Lygia deixou lições da importância do posicionamento político para caminharmos rumo a dias melhores.
Aprendi desde cedo a importância de tomar lado e me posicionar politicamente. Aos 19 anos, trabalhava na Casa da Cultura da Mulher Negra de Santos, comandada por Alzira Rufino. Foi na casa de cultura da Mulher Negra que conheci a biblioteca Carolina Maria de Jesus. Em Carolina e na Biblioteca Carolina, minha vida mudou. Lá eu li Toni Morrison pela primeira vez e o seu Olho Mais Azul passou a ser a obra literária mais importante da minha vida. Li bell hooks, Audre Lorde, Angela Davis. E li as produções brilhantes das mulheres negras brasileiras. Naveguei pelos Becos da Memória de Conceição Evaristo. Até hoje ler Sueli Carneiro me traz uma força ancestral e uma vontade de seguir escrevendo. Seus textos carregam o poder do facão de Ogum abrindo trilhas para o feminismo negro brasileiro. Li Jurema Werneck e o livro organizado por ela chamado Saúde das Mulheres Negras, que me salvou de uma tristeza que pensava ser incurável. Conheci naquela casa Luiza Bairros, Eliane Cavaleiro, Cida Bento, Edna Rolland, Matilde Ribeiro, Vilma Reis, Zélia Amador, e tantas mulheres negras em quem me inspirei.
Saúdo a memória de Caetano de Campos, patrono da cadeira 28. Tenho certeza de que vocês conhecem o colégio que leva seu nome na saída do Metrô República. Aquela construção foi o seu sonho, mas que ficou pronto após sua partida prematura, aos 57 anos. Caetano nasceu da classe popular, perdeu cedo o seu pai e foi criado apenas pela mãe, que com muita luta conseguiu matricula-lo em uma escola. Brilhante aluno, chamou a atenção rapidamente do diretor e o próprio diretor da escola garantiu todos os meios necessários para que estudasse Medicina. Caetano se forma como orador da turma e vai servir como médico cirurgião dos soldados feridos na guerra do Paraguai. Aquele lugar de tantas injustiças não era seu lugar, Caetano contraiu Beriberi, doença que o obriga a sair da guerra e vir a São Paulo, onde se tornou médico e cirurgião da Santa Casa de Misericórdia da Província. Dizia-se que ele era irresistível. Segundo registros da época, Caetano de Campos era um (abre aspas) “homem alto, esbelto, de olhar inteligente, cortês no trato e conversação, dotado de raras qualidades morais. Por onde quer que passasse deixava um rastro de simpatia, que não raro se transformava em admiração. Sua voz de sonoridade agradabilíssima encantava, eletrizava" (fecha aspas). Será que Caetano de Campos era um filho de Oxóssi? Tenho minhas suspeitas... Muitos anos se passaram, até que Caetano foi empossado na missão de desenvolver a reforma no ensino público do estado. Foi um homem amante da ciência, o qual dizia que era (abre aspas) “preciso afastar o sofisma, rechaçar o preconceito, fustigar o obscurantismo seja qual for a sua procedência”. A escola foi projetada para ser o símbolo da reforma e ficou pronta em 1894, três anos após sua morte por complicações da Beriberi.
A morte é um mistério. Aquilo que, nas palavras de Ariano Suassuna, é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo, morre. Iku é o orixá com quem todos e todas nós nos encontraremos um dia, ele quem nos retira o sopro da vida. Uma missão impopular, eu diria, mas necessária. Dos cultos de Egungun na Ilha de Itaparica, passando pelos axexês, os rituais de passagem da pessoa que se encontrou com Iku, a morte segue sendo intensamente debatida. Aliás, peço a benção a meu irmão mais velho, Fábio Mariano, grande estudioso dos rituais da morte, aqui entre nós. Mas o que eu quero aqui destacar é que, apesar de todo esse mistério, entre os povos de terreiro, existe a ideia de imortalidade. Somos imortais à medida que vivemos no coração das pessoas que seguem a jornada ancestral nesse plano. E Lygia sabia muito bem disso, quando dizia que enquanto seus leitores seguissem lendo-a depois que fizesse a passagem, ela jamais morreria. Essa sábia anciã sabia do que estava falando. Como disse o confrade presidente Nalini, quando do velório de Lygia nesta mesma academia, “enquanto houver leitor no mundo, a gigantesca e exuberante obra continuará a ser revisitada”. Meus amigos, minhas amigas, Lygia é uma imortal. Sim, a semântica de sua imortalidade está posta pela cadeira número 28 na Academia Paulista de Letras, e ainda pela cadeira número 16 na Academia Brasileira de Letras. Mas digo isso sobretudo, porque mora no coração de seus milhões de leitores e leitoras por todo país. Lygia é imortal em todos os sentidos da palavra.
Cito os outros imortais da cadeira 28. O médico Rubião Meira, reitor da Universidade de São Paulo, foi o fundador dessa cadeira e dedicou-se, assim como boa parte de sua família, aos estudos da medicina, sendo o fundador da Academia Paulista de Medicina. Meira foi sucedido na cadeira por Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal Estadão e um grande entusiasta das ciências humanas, sendo ele um dos fundadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que anos mais tarde se tornaria a FFLCH, lugar de destaque na produção de pensamento brasileiro. E onde muitas décadas depois uma estudante não tão jovem assim participou de conferências e seminários de filosofia para apresentar sua pesquisa sobre o pensamento de Simone de Beauvoir. Não foi fácil estudar essa brilhante pensadora francesa, posto que o estudo da história da Filosofia é centrado no homem. Foram pouquíssimas mulheres com quem me deparei na academia e tive que estudar por conta própria. Mas naquele campus novo da Universidade Federal de São Paulo, no Bairro dos Pimentas, onde me graduei, encontrei parceiros intelectuais que me acompanharam nessa jornada independente. Alexandre Carrasco, Edson Teles, meus professores da graduação e do mestrado estão aqui e os saúdo e celebro. Obrigada.
Mesquita Filho foi o chefe do imortal que o sucedeu nessa notória cadeira. Luís Campos, cronista, escreveu no Estadão por 36 anos, a maior parte do tempo colunas diárias. Minhas deusas, só por isso já merece todos os nossos aplausos. Foram mais de 7 mil textos no Estadão e muitos livros publicados. Pelos seus dedos, escorreram muitas lágrimas e amores, e aproveito aqui seu amor por São Paulo para fazer as homenagens de estilo à essa cidade que tão bem me acolhe. Sou uma caiçara de Santos, mas há seis anos resido na capital e pude entender quando Campos assim escreveu sobre Sampa: “Não foi amor à primeira vista, porque muito custei a me habituar aos teus modos e a tua beleza não é dessas que causam deslumbramentos súbitos. No primeiro momento agrides, e às vezes te tornas antipática e fria. No fundo boa e ingênua criatura, tens encantos e doçuras que só o trato continuado descobre. Vestida de cimento armado, pareces orgulhosa, altiva e desdenhosa; mas quando em certas tardes de maio envolves teu corpo com um gracioso manto de tule azul, e em certas noites de invernos tiritas encolhida numa capa cinzenta de garoa - oh! São Paulo és tão linda que o mais emperdenido coração não tem remédio senão tombar apaixonado - e desejar unir-se a ti em vínculo indissolúvel, no civil e no religioso”. Sabemos como a percepção de São Paulo vai variar conforme o lugar de fala. Carolina Maria de Jesus via uma outra cidade, mais brutal que a de Luís Martins, quando escreveu em seu Quarto de Despejo: “Eu classifico São Paulo assim: O Palácio é a sala de visita. A Prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos”. Nessa noite, entre tantas pessoas queridas, relembro Lélia González, imortal em nossas mentes e corações, para dizer que o lixo vai falar e numa boa.
Bom, já deu para perceber que essa cadeira tem a marca do Estadão, então peço licença para como uma colunista da Folha de S. Paulo seguir honrando a tradição da imprensa escrita. Agradeço Sergio Davila pela oportunidade.
Minha primeira coluna para a Folha de São Paulo foi em homenagem à Whitney Houston, uma mulher do 9 como eu, a maior diva pop, nada contra Beyonce, só não gosto de muita pirotecnia. Esse vestido que uso hoje foi inspirado em um modelo usado por Whitney no Billboard 1991. Pedi para Talita Verona, estilista de muito talento e da nossa comunidade, fazer pra mim tamanha minha admiração por Whitney. Durante a faculdade, escondi meu amor por ela. Estudava filosofia na universidade federal de SP e ali só estava autorizado gostar de cinema francês, música erudita e jazz. Se gostássemos de cinema iraniano éramos considerados o suprassumo da intelectualidade. Amo jazz, blues, MPB e amo Whitney, mas assumir isso naquele círculo me faria perder a carteirinha do clube dos auto intitulados eruditos. Num dos trechos da coluna, escrevi: Amo como Whitney dominava o palco sozinha, sem dançarinos, no gogó. Assisti algumas vezes ao documentário sobre sua vida, chamado “Can I Be Me”, e refleti muito. “Posso ser eu?” Deve ter sido doloroso seguir o que todos queriam, empresários, família, militância e, apesar de ser genial, ser reduzida a “viciada”.
Uma mulher triste, assim começa o documentário. Impossível não pensar na relação entre “quero ter a liberdade humana de ser eu” e “can I be me?”, apesar de uma ser afirmação e a outra, o desejo, a espera eterna pela permissão que nunca vem. Desculpe, Whitney, eles sabem o que fazem e o fazem mesmo assim. Agradeço por “The Greatest Love of All”, aliás, ouvir essa música no repeat do meu radinho Lenoxx me livrou de muitas armadilhas.
“Eu decidi há muito tempo / Nunca andar na sombra de alguém / Se eu falhei, se eu fui bem-sucedido / Pelo menos eu vivi como eu acreditei / Não importa o que possam tirar de mim / Eles não podem tirar minha dignidade / Porque o maior amor de todos / Está acontecendo comigo / Eu encontrei o maior amor de todos dentro de mim.”
Parece autoajuda, já me disseram. Para mim, é somente a música que me acompanhou em noites trancadas no quarto, rebobinando a fita e me acolhendo quando ninguém mais o fazia. Amo Whitney e vou defendê-la, não ligo de perder a carteirinha cult do bar de jazz. Can I be me?
Whitney também me ensina sobre potência e a importância de não se permitir ser dobrada pelo mundo. Um mundo que nos quer de costas arqueadas e cabeça baixa. No texto “Minhas palavras estarão lá”, Audre Lorde escreveu: Meus críticos sempre quiseram me ver sob determinada luz. As pessoas fazem isso. É mais fácil lidar com uma poeta, certamente com uma mulher negra poeta, quando você a categoriza, a restringe, assim ela pode preencher as suas expectativas. No entanto, sempre senti que não poderia ser categorizada. Isso tem sido uma força e uma fraqueza. Fraqueza porque a independência me custou muito apoio. Contudo, veja só, também foi força porque me deu o poder para continuar. Não sei como teria vivido as várias coisas às quais sobrevivi e continuado a produzir se não sentisse que tudo o que sou é o que me deixa realizada e determina minha visão de mundo.” Faço das palavras de Lorde, minhas. Não foi e não é fácil ser uma mulher negra vinda da classe trabalhadora e andar de cabeça erguida. De ser uma mulher independente e que não pede licença para existir, não quer ser fixada nem pelo sistema e nem pela militância. Como me ensinou a querida amiga Grada Kilomba: “quero ter a liberdade humana de ser eu”.
Há um ditado que aprendi com o babalorixá Sidnei Nogueira: “a verdade não tem pressa”. Interessante porque em Cartas para minha avó, eu termino dizendo a minha avó Antonia que eu aprendi a não ter pressa. E esse aprendizado foi fundamental, sobretudo para quem é filha de Oxóssi, o caçador de uma flecha só. A pressa afugenta a presa, faz errar o alvo, justamente porque Oxóssi tem uma flecha, Ele não vai errar. A verdade sempre vem, assim como a caça para a comunidade. Volto a ser a menina de 8 anos que lia demoradamente, me afasto das pessoas que apressam Sherazade, não ouço áudios no WhatsApp na velocidade 2, não me obrigo a responder mensagens na hora ( o que muitas vezes faz com que as pessoas me achem arrogante), mas não é verdade, é tão somente a serenidade alcançada em compreender meu próprio tempo. Tenho a sorte de um amor sereno, um companheiro que caminha ao meu lado, Brenno Tardelli, filho de Oxaguiã e quem me concede a felicidade da cumplicidade e lealdade.
Não temo a verdade e faço parte do time que diz que o rei está nu, mesmo recebendo ataques ou sofrendo cancelamentos. Como a verdade não tem pressa, os canceladores depois se tornarão figuras envergonhadas de sua própria pressa em acusar.
Eu entrei na faculdade aos 28 anos, me formei aos 32, defendi a minha dissertação de mestrado aos 35 e escrevi o primeiro livro aos 37. Os apressados sempre me viram como atrasada. Mas hoje estou aqui, recebendo a honra de tomar posse na Academia Paulista de Letras e sendo a acadêmica mais jovem, a caçula. O tempo é Senhor e a serenidade é conquista. Hoje tenho serenidade e perdi o medo da plenitude.
Obrigada.
 voltar
voltar